Numa política europeia cheia de populistas, indignados, rebelados contra a austeridade, a última pessoa de quem se espera discursos sobre a revolução é Paolo Prodi. Há 83 anos o professor Prodi, irmão do Romano que foi Premier, é um dos mais autorizados historiadores italianos, escreveu livros muito cultos sobre o poder e a história das nossas instituições. Agora manda às livrarias um pequeno trabalho com um título que nos deixa curiosos: “A queda da Revolução”, publicado por Mulino.
A entrevista é de Stefano Feltri, publicada pelo jornal Il Fatto Quotidiano, 10-08-2015. A tradução é de Ivan Pedro Lazzarotto.
Eis a entrevista.
 Professor Prodi, o que é uma revolução?
Professor Prodi, o que é uma revolução?
Nunca faltaram golpes de Estado, a luta de quem não tem poder contra quem tem o poder nas mãos existe desde a civilização mesopotâmica. Mas não é a revolução. Aquilo que distingue o Ocidente das outras civilizações é a capacidade de projetar um novo modelo social. Várias vezes com os trágicos aspectos da revolta, certamente, mas ao interno de uma visão de desenvolvimento.
Por quê isso acontece somente no Ocidente?
A revolução francesa e o iluminismo são o ápice de um processo secular que distinguiu o poder político daquele econômico e daquele sagrado. Nas antigas civilizações o palácio e o templo tinham tendência a ser coincidentes. Com o cristianismo se desenvolve o dualismo entre “dai a César o que é de César e a Deus aquilo que é de Deus” que na idade média se transforma em luta entre o papado e o império, com o nascimento do poder econômico como uma nova forma de poder, não ligado ao processo da terra.
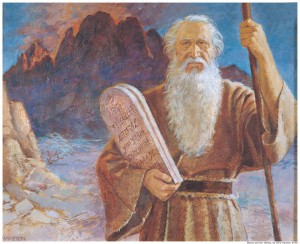 Por quê o senhor fala da distinção entre profecia e utopia como uma virada decisiva?
Por quê o senhor fala da distinção entre profecia e utopia como uma virada decisiva?
No Antigo Testamento se desenvolve a ideia de profecia como expressão da vontade de um deus super partes. Não identificado com o poder, mas que se coloca em dialética com isso e condena os abusos. É esta ideia que lança as suas raízes também no cristianismo. A Igreja se transforma em profecia institucionalizada: o profeta não está mais isolado, mas se transforma em comunidade. Que não se identifica com o poder, mesmo se seguidamente acaba por entrar em combate. Não quero dizer que a teocracia nunca existiu, do contrário. Colocou a cabeça para fora, no Ocidente, muitas vezes. O poder sagrado procurou sempre se apoderar do poder político e econômico, mas no Ocidente não é mais possível identificar um com o outro. Isso produziu uma fibrilação, uma tensão contínua, que levou ao desenvolvimento da ideia de revolução. E se chega a decapitação de Carlos I em 1648.
 E a utopia?
E a utopia?
A primeira utopia é aquela de Thomas More. É a projeção de uma sociedade “feliz”. Que enche o conteúdo revolucionário de um novo potencial. Não se fala mais de profecia ligada ao “fim dos tempos”, a profecia entra para a história e se transforma em utopia. A história da salvação se transforma em “progresso”, movimento.
E hoje terminou a ideia de progresso? Há alguns anos The Economist fez uma reportagem sobre o tema.
Se falou muito do uso político da história. Mas não é mais como há um século atrás, digamos assim, a matriz da cultura política. Eu lembro sempre da famosa frase de Johann Gustav Droysen, um historiador do século XIX que dizia: “O homem político é o historiador prático”. Mas nos últimos cinquenta anos as ciências da sociedade, como a sociologia, entraram para a história como uma base da política.
No sentido que existe ilusão de se encontrar leis e receitas universais?
Vi entrevistas de políticos que não sabem quando foi a revolução francesa. Ele fazem de conta que não sabem, ou seja, tenta-se anular o passado.
Não é mais necessário que se conheça o passado?
Não é mais tido como necessário. E isso leva a grandes erros, como aquele da política americana que está convicta de exportar o estado de direito aos países árabes.
Renunciamos à ideia de uma sociedade alternativa?
Se não existe passado, muito menos existe futuro. E isso se traduz numa crise visível das instituições democráticas: falta a ideia de projeto, a mudança que ficou é aquela das tecnologias. Mas se muda sem saber para onde se está indo.
Porquê, no seu livro, o senhor fala que o ano de 1968, com a “imaginação no poder”, foi a derrota definitiva da revolução?
 Eu vivia buscando fazer a reforma da Universidade de Bologna, na época, quando veio até nós Jean-Paul Sartre, e eu me senti, de certa forma, rejeitado. Porque não existia um projeto de reforma, mas somente a vontade de anular a história. Mas a “imaginação no poder” sem a história a nos lança no precipício. Em 68 foram retirados os véus do poder, mas embaixo não existia nada, estava vazio não somente o velho rei, mas também aquele novo que ambicionava pelo trono. A geração de 68 de fato se dissolveu, se desfez, nos filetes do poder tradicional. Existia o ataque ao poder existente, mas sob essa luta se rompeu -se a projeção de uma sociedade futura. A divisão em dois blocos, na guerra fria, cobriu o vazio. Depois dos anos 90, tudo voltou a tremer.
Eu vivia buscando fazer a reforma da Universidade de Bologna, na época, quando veio até nós Jean-Paul Sartre, e eu me senti, de certa forma, rejeitado. Porque não existia um projeto de reforma, mas somente a vontade de anular a história. Mas a “imaginação no poder” sem a história a nos lança no precipício. Em 68 foram retirados os véus do poder, mas embaixo não existia nada, estava vazio não somente o velho rei, mas também aquele novo que ambicionava pelo trono. A geração de 68 de fato se dissolveu, se desfez, nos filetes do poder tradicional. Existia o ataque ao poder existente, mas sob essa luta se rompeu -se a projeção de uma sociedade futura. A divisão em dois blocos, na guerra fria, cobriu o vazio. Depois dos anos 90, tudo voltou a tremer.
A alma da Europa é aquela de uma “revolução permanente”, segundo o que o senhor escreve. Tudo parece essa União Europeia, exceto revolucionária…
O equilíbrio de tensão, de fibrilação, entre os vários poderes em concorrência entre eles desapareceu. O caso grego e a crise do euro ocupam a cena mas são efeitos, não causas. O Estado moderno não consegue mais controlar o poder financeiro.
Alguns Estados como a República Popular da China, porém, parecem bem fortes.
A filosofia do Neo Confucionismo é que a ordem celeste corresponde àquela terrestre de poder. Enquanto as estruturas democráticas do Ocidente – o Parlamento, as legislaturas, o juramento do presidente da República – nasceram da tensão entre os poderes, na China, do contrário, depois da crise da chamada Revolução cultural, houve um retorno às raízes de tipo confucionista: o poder é apenas um e vem do alto.
Enquanto a sociedade europeia e ocidental patina de eleição em eleição, os líderes chineses duram décadas. A ideia de legislatura de quatro-seis anos nasceu na Inglaterra do século XVIII e não vale mais: é muito breve. Se algumas decisões sobre o ambiente são tomadas para obter o consenso dos eleitores, é difícil que sejam boas também para os nossos netos. Em um mundo que anda cada vez mais veloz, os tempos da política deveriam ser mais longos.
 O Califa Al Baghdadi, chefe da Isis, é o último revolucionário?
O Califa Al Baghdadi, chefe da Isis, é o último revolucionário?
É uma coisa totalmente diferente. O Islã é uma heresia nascida no húmus hebraico-cristão, que propôs uma coincidência entre poder político e poder religioso. Por isso não pode ser revolucionário, no significado que eu utilizo, é somente um grito contra a civilização do consumo. Mas aquilo que propõe o Isis, com o Califado e todo o restante, é somente o retorno a uma história pré-cristã. A essa união entre poder sacro-político e econômico que foi o ponto de partida do Islã, no sétimo século.
O que é o “direito a resistência” sobre o qual escreve?
É um conceito que recorre na nossa história, desde Tomás de Aquino até a Constituinte Italiana, 1946-1947, quando alguns juízes queriam inserir a legalidade da resistência à injustiça. Depois não entrou na Constituição, mas, quanto mais aumenta a lacuna entre a consciência e a lei, mais cresce a importância do direito à resistência.
No contexto, o senhor parece um pouco pessimista.
Como historiador, paro na análise daquilo que ocorreu. Mas se abre nessa globalização uma batalha extremamente interessante entre uma sociedade dominada pelas grandes potências financeiras e uma sociedade na qual as comunidades locais e, em particular, os corpos intermediários, podem encontrar sua renovada expressão de tipo político. Não podemos mais pensar na Europa como um super Estado, como pensavam nossos bons pais federalistas. Precisamos pensa-la como uma sociedade com soberania estratificada, não monolítica.

